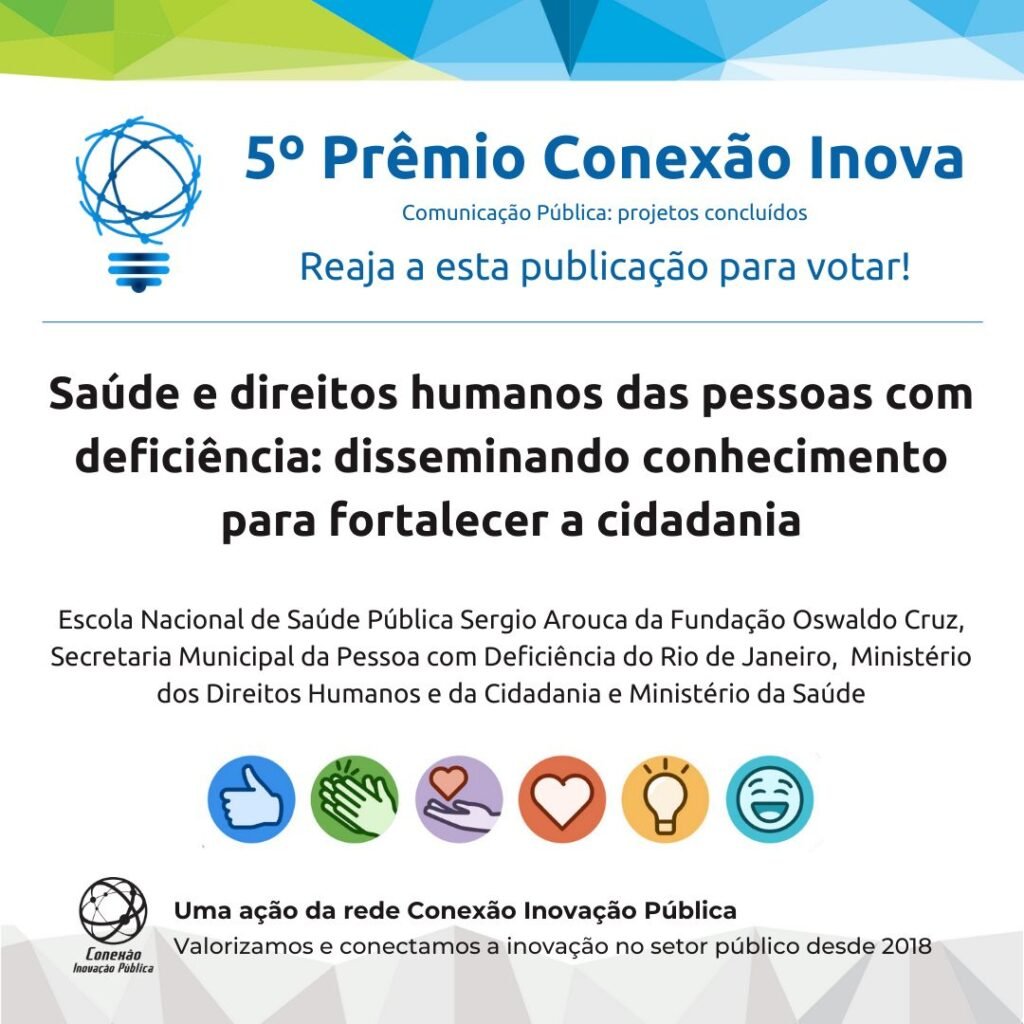Por Fábio Grotz, no CLAM
A presidente Dilma Rousseff promulgou no início do mês de junho a lei 12.984. O texto criminaliza a discriminação contra pessoas vivendo com HIV/Aids. A partir de agora, casos como a divulgação da condição de portador do vírus com o intuito de ofensa, a recusa de escolas em matricular alunos soropositivos, a demissão ou segregação no ambiente de trabalho e a demora ou recusa de atendimento de saúde passam a ser punidos com multa e prisão de 1 a 4 anos. A lei foi comemorada por entidades e movimentos de direitos humanos; entretanto, de acordo com ativistas e operadores do direito ouvidos pelo CLAM, é preciso ter cautela diante das limitações do texto e, especialmente, em relação à sua eficácia e lógica punitiva.
A lei, que tramitou por 11 anos, é vista por Cazu Barroz, coordenador da Federação de Bandeirantes do Brasil, como uma medida importante. Apesar disso, ele ressalta que a necessidade de uma lei específica para punir a discriminação é um sinal de que o país ainda precisa avançar. “A lei é um instrumento para facilitar o convívio social. Infelizmente, precisamos de uma legislação do tipo para que as coisas funcionem conforme previsto na Constituição, que preza pelo respeito, pela dignidade e pela não discriminação. Desde o início da epidemia nos anos 1980, nós, os portadores do HIV, somos vítimas de preconceito e estigma nos mais diversos espaços”, afirma Cazu Barroz.
Em 1992, Cazu Barroz foi demitido de uma rede de restaurantes fast food por ser soropositivo. Ele processou a empresa e conseguiu um acordo no qual receberá por toda a vida salário e benefícios. Em 2007, ele foi chamado pela empresa para trabalhar lá novamente. No entanto, em condições claramente discriminatórias, pois ficaria sozinho em uma sala, sem contato com outros funcionários.
A epidemia de HIV/Aids tem sido, desde o seu início, envolta em estigmas. Nos anos 1980, quando emergiu, a Aids esteve associada à noção de desvio, em um contexto moral que se revelou destacadamente contra indivíduos homossexuais, através da ideia da doença como castigo. Assim, ser portador do vírus e/ou da doença remete a uma série de representações negativas que em geral desdobram-se em preconceito e discriminação. Nesse contexto, alguns casos emblemáticos ilustram a trajetória que a epidemia tem percorrido no contexto brasileiro, bem como as respostas de direitos humanos que foram pensadas e desenvolvidas para enfrentar a situação.
Um dos casos mais notórios foi o da menina Sheila Cartopassi de Oliveira que, em 1992, aos 5 anos de idade, não foi aceita por um escola na cidade de São Paulo por ser portadora do vírus HIV. A recusa do estabelecimento de ensino mobilizou a sociedade civil e levou o governo federal, através de uma portaria interministerial, a proibir esse tipo de discriminação.
Ao longo dos anos, entidades ligadas aos direitos das pessoas vivendo com HIV/Aids lograram vitórias judiciais que culminaram tanto na construção de uma jurisprudência sólida quanto de um arcabouço teórico e de um clima político voltado para a inclusão dos indivíduos soropositivos.
Cotidianamente, a advogada Patrícia Rios, coordenadora da assessoria jurídica do Grupo Pela Vidda de Niterói, assiste pessoas vítimas de discriminação, constrangimentos e segregação no ambiente de trabalho, na escola e nos serviços de saúde. “Temos consolidado um arsenal importante de decisões que promovem e garantem os direitos das pessoas soropositivas. Isso tem forçado o Estado a pensar e criar políticas e leis em relação ao direito à saúde e ao trabalho, a partir de uma perspectiva dos direitos humanos”, destaca a advogada.
A distribuição gratuita de medicação antirretroviral pela rede pública de saúde, a partir de 1996, foi uma conquista possibilitada pela mobilização da sociedade civil, por exemplo. No entanto, para Patrícia Rios, avaliar a nova lei requer um exercício de perguntas e ponderações. “Precisamos de uma lei para trazer a culpabilização? Se tivéssemos um Estado e uma sociedade que respeitassem a dignidade das pessoas vivendo com HIV/Aids, precisaríamos dessa lei? A nova legislação, que criminaliza a discriminação contra indivíduos com o vírus e a doença, sinaliza que, infelizmente, a epidemia ainda preserva muitos traços de seu início. O estigma permanece”, afirma.
Um desses estigmas é endossado pelas Forças Armadas. A admissão e permanência nas corporações militares são condicionadas pelo status sorológico. A promulgação da lei 12.984, no entanto, não garante que tal situação seja mudada, fazendo pensar sobre os limites do texto. De acordo com Patrícia Rios, a lei é um mecanismo importante para questionar na Justiça o uso do HIV/Aids como critério de seleção e demissão. “Mas eu posso ganhar ou perder. Vai depender da decisão judicial. Meu medo é que essa lei seja mais uma. Legislações não são suficientes para modificar a realidade”, pondera.
Uma questão que Cazu Barroz aponta é o fato de que nem sempre se pode provar que um empregador usou a soropositividade para negar a admissão ou a permanência de uma pessoa no emprego. Ele relata que grandes empresas contratam médicos infectologistas que detectam a presença do vírus sem a necessidade do teste de HIV, apenas com exames simples que mensuram marcadores clínicos como triglicerídeos e ureia, o que dificulta a configuração da discriminação.
Nesse contexto, a lei 12.984 não contempla todos os desafios que a epidemia apresenta no cotidiano. Seu texto define casos específicos de discriminação, tendo um escopo restrito. Também não há clareza, conforme aponta Patrícia Rios. “A lei aponta que a pessoa pode ir a uma delegacia e denunciar que é vítima de discriminação. No entanto, em relação a casos no âmbito do mercado de trabalho, já há uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que protege a pessoa portadora do HIV, presumindo como discriminatória a demissão de pessoas com HIV/Aids e, assim, invalidando o ato. A lei, portanto, não avança nesse sentido. Por si só, o texto não garante estabilidade ao empregado”, destaca a advogada.
Para Cazu Barroz, não se pode esperar grandes mudanças. “A Lei Maria da Penha [que endureceu as penas nos casos de violência de gênero e doméstica] mudou a realidade?”, questiona. Além dessas questões e limites da nova lei, o Ministério da Saúde tem sido muito criticado em razão da falta do diálogo com a sociedade civil que marcou e consagrou a construção da resposta brasileira à epidemia.
Ainda que o governo mantivesse uma articulação sólida com a sociedade civil, privilegiar a criminalização como recurso pedagógico, ressaltam tanto Patrícia Rios quanto Cazu Barroz, não parece a saída mais adequada. Opinião semelhante tem a professora e diretora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro(Iesc/UFRJ), Miriam Ventura. Advogada por formação e atuante durante anos na defesa dos direitos das pessoas com HIV/Aids, ela tem uma posição crítica em relação à lei 12.984, sobretudo pela lógica punitiva que a fundamenta.
“No início da epidemia, o estigma e a discriminação foram traços muito fortes, caracterizando uma abordagem punitiva e discriminatória às pessoas soropositivas. A mobilização da sociedade civil possibilitou o encontro de uma perspectiva de direitos humanos com a saúde. Assim, buscou-se escapar da lógica punitiva como caminho para lidar com a epidemia. O referencial dos direitos humanos foi fundamental para a conquista de muitas vitórias. A cidadania foi promovida nesses termos. A questão do HIV/Aids é muito complexa. Não se pode pensá-la de forma restrita. As dimensões social e cultural são essenciais. Foi assim que conseguimos produzir vasta reflexão sobre o estigma. Nesse sentido, o uso da legislação criminal resgata uma perspectiva que estamos tentando desconstruir desde os anos 1980 e que nos afasta da linguagem dos direitos humanos ao privilegiar a criminalização como forma de garantir direitos”, argumenta Miriam Ventura.
Ela destaca que o referencial dos direitos deve ser priorizado em sua dimensão instauradora. “O caso Sheila, por exemplo, foi enfrentado de uma forma propositiva. A partir do referencial de direitos universais, como o direito à educação, conseguimos deslegitimar aquela violação. Da mesma forma, os tribunais têm decidido a favor das pessoas discriminadas a partir de ações positivas que valorizam os direitos”, afirma a advogada e pesquisadora.
Dentre as ações positivas, Miriam Ventura cita a previsão de que pessoas soropositivas possam utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), benefício que os empregadores devem depositar mensalmente em nome do empregado para ser resgatado em caso de demissão.
Análise similar tem Patrícia Rios, do Grupo Pela Vidda, para quem políticas e leis afirmativas são mais adequadas para lidar com a discriminação. “A penalização não cria um parceiro, cria um inimigo. Vamos tratar os direitos das pessoas com polícia e prisão? Há outras formas de lidar com a questão. Por que não priorizar a educação como instrumento de combate do preconceito? A educação continuada de profissionais da saúde e da educação, por exemplo, é uma forma valiosa de enfrentar o preconceito, pois o alvo é a mentalidade das pessoas. Certamente, mudamos as condutas através de ações educativas, que contagiam e levam a reflexão para outros espaços”, enfatiza.
Apesar de reconhecer certo valor simbólico na lei, Miriam Ventura não aprova tratar, pela via da penalização, os agressores. “Vamos tratá-los como tratávamos e ainda tratamos as vítimas, com uma linguagem que exclui ao invés de incluir? O direito penal atinge o indivíduo, não lida com o contexto social de desigualdades que está na raiz do estigma contra pessoas vivendo com HIV/Aids. Não demonizo o encarceramento, mas nos casos de discriminação seria interessante refletirmos sobre a eficácia dessa resposta e pensarmos em formas mais propositivas e afirmativas. Trabalhar com direitos pela via da criminalização não me parece produtivo. Um grande esforço tem sido empreendido por pesquisadores, organizações da sociedade civil e gestores no mundo todo em prol de um direito penal mínimo. Seria importante alargar essa discussão e problematizar as soluções penais”, conclui a professora do IESC/UFRJ.